I.
Estou a algumas semanas da minha mudança para São Paulo. É segunda à noite, 26 de maio, e há alguns minutos mandei mensagem pro Danis pedindo que ele guardasse caixas grandes pra mim. O quanto da minha vida cabe em caixas? Já mudei outras vezes, mas nunca uma mudança só minha — o que é tudo o que eu tenho?
Decidi iniciar esse texto aqui porque é o momento em que essa mudança começou a se manifestar no meu mundo: o precisar de caixas, caminhão de mudança, procurar apartamento durante os intervalos do café. O momento de avançar no mapa.
II.
Há pouco me ocorreu que sou a primeira da minha família a fazer o contra-caminho. Eu e meus irmãos somos os primeiros nascidos em Campo Grande, enquanto minha família materna e paterna é paulistana — meus avós, por outro lado, vieram de todo canto: de Alagoas, do interior paulista, de uma aldeia no interior sul-mato-grossense. Meus pais e tios vieram pra Campo Grande pouco antes de eu nascer porque minha avó estava doente e, depois da morte dela aos meus 4 anos, não demorou e todos voltaram pra São Paulo, exceto meus pais, minha tia Alê e meu avô: ficamos nós. E crescemos nós.
Na semana passada, quando contei pra minha tia Alê que mudaria pra São Paulo no mês seguinte, passado o choque inicial, veio o carinho e apoio e torcida e, acima de tudo, um orgulho que me pegou de surpresa. Em dado momento, ela disse “afinal de contas, você vai estar em casa.”, ao que eu olhei pra ela um tanto confusa, me localizando na conversa. E olhando firme nos meus olhos, ela falou “em São Paulo. É a nossa casa também.”. Minha tia encontrou a mesma certeza que eu: a cidade me acolheria porque existe algo meu lá.

III.
Kamylla, uma das minhas melhores amigas (e cunhada), me mandou um áudio comemorando minha mudança e toda a nova vida que isso traz, e disse algo que seguiu comigo: não vai ser fácil, mas também não seria nada fácil continuar onde você está agora.
IV.
Na última semana, reli Goodbye to All That vezes demais. Começou com um eco repentino dessa frase numa tarde enquanto eu respondia a algum e-mail e, ao chegar em casa horas depois, reli o ensaio uma, duas, três vezes seguidas. Mais outras várias vezes nos dias seguintes, ao ir dormir ou ao acordar. Aquelas palavras da Didion me encontraram num lugar que não era exatamente o mesmo que o dela há décadas atrás, mas onde existia alguma imensa familiaridade em todos aqueles sentimentos e palavras escolhidas. É um texto muito pessoal em que ela tenta explicar para si sobre os motivos que a levaram a ir embora de Nova York após oito anos vivendo lá. É sobre o instante em que ela se dá conta do fim da sua juventude, de alguma forma, e esse não é precisamente o meu caso. É também sobre os momentos em que tudo começa a contar, todas as decisões, promessas, pessoas, estruturas, perdas. Acima de tudo, é sobre o instante em que as possibilidades da sua vida até então deixam de existir onde você está. E, deste último, eu entendo algo.
Eu avancei sob um lugar onde o meu passado — quem eu fui e quem eu sou, minhas pessoas, minhas histórias, as criações e as brincadeiras de crianças —, tudo isso veio ao meu encontro, alcançou alguma tangibilidade maior do que jamais fora. E você vê, esse é um texto que eu desejei escrever, pelo qual eu pacientemente esperei para alcançar o exato momento na minha história em que eu deveria escrevê-lo. Em que eu poderia, finalmente, escrevê-lo.
Os lugares sempre foram a coisa mais importante pra mim. As cidades. Esses locais místicos, tão singulares quanto cada indivíduo e cada personalidade — esses lugares em que certas histórias e pessoas e formas e cores só poderiam existir ali e em nenhum outro lugar no mundo. Quando criança, eu via os filmes me imaginando naqueles espaços, pensando “eu poderia ser feliz nesse lugar? Eu caberia ali?”. Faço isso até hoje, apesar de um tanto mais alheia a essas perguntas que, de tão inerentes, são automáticas.
O primeiro filme a solidificar alguma ideia do que eu esperava que fosse a minha vida adulta foi O Diabo veste Prada. Eu não estava interessada nos abusos psicológicos pela chefe cruel e bem vestida, e nem mesmo no trabalho em si, naquele conceito de mundo — mas o lugar falava comigo. Eu nem devia entender exatamente o que era Nova York e o que ela representava, ao menos não como entendo hoje, mas eu entendia o que era o dinamismo, a beleza, a arte, as pessoas. Eu entendia o que era a singularidade do azul cerúleo e eu queria entender o que era amar o que se faz e onde se está. E tudo isso me dizia o que eu esperava da minha vida, de mim. Me dizia sobre o que me chamava.
A vida acontece e os lugares nos chamam — um chamado ao qual sempre atendemos.
V.
No meu último mês aqui, descobri o melhor croissant da cidade — surpreendentemente, um dos melhores que penso já ter comido no (meu) mundo. Talvez porque ele pudesse ter um gosto de saudade antecipada. Ou talvez porque ele em si fosse um troféu simbólico do que levar comigo por aí: o melhor croissant que eu comi foi em Campo Grande.
VI.
Estou mudando para Brasília. Em mais um capítulo das inúmeras revoluções pessoais que 2025 segue trazendo a mim, abracei esse redirecionamento para a próxima cidade no meu horizonte, um que nunca antes conheci.
A menos de três semanas da mudança para São Paulo, surgiu uma dessas oportunidades únicas em que não há escolha alguma a ser feita — há somente o sim. Vi tremeluzir essa porta dourada diante de mim, exigindo somente que eu colocasse um pé na frente do outro, e o chão apareceu sem grandes desdobramentos. O tipo de acontecimento que nos exige apenas ser.
Recalculei o destino: do lugar que conheço, do familiar, para o coração do país onde nunca pisei. Comemorei o que será e senti o luto por aquilo que quase foi, que eu tanto quis (— e quero e ainda será. E, de fato, São Paulo nunca é o que eu espero). Encontrei espaço para tudo. Descobri o que era tudo o que é meu: meus livros em caixas, roupas em malas, os diários com registros de uma vida, as caixas de lembranças e cartinhas de escola, envelopes com fotos, o que vai e o que fica. O que chega. O pressentir do imprevisível, do inimaginável, até. Se não sei já sabendo, também já sei tudo aquilo que ainda não tenho como saber. Dar o passo é a nossa garantia de comparecimento diante da vida; o chão que nos encontra é a garantia dela pra gente.
Como havia escrito três dias antes dessa revolução: a vida acontece e os lugares nos chamam — um chamado ao qual sempre atendemos.
Atendi, então, ao chamado da cidade, essa religião que não me falha. Sigo para Brasília. A cidade que rima com o meu nome e que, de tão alta do chão, é mais perto do azul do céu. Otimista por natureza, tomo estes como ótimos prenúncios para o lugar a que agora passo a chamar de casa.
VII.
Eu entendo o que a Didion quis dizer com “É fácil ver o início das coisas, e mais difícil ver os fins.”. Quando olho em retrospectiva à procura do exato instante em que meu tempo em Campo Grande chegou ao fim, sigo retrocedendo para além da notícia, da decisão, da vontade, do fim, do conflito — alcanço o dia em que, de férias em São Paulo (a viagem do cartão postal, veja só), decidi adiantar minha passagem de volta para Campo Grande. Eu sentia falta das minhas cachorras, dos meus livros, minhas coisas. Eu sentia falta do que chamava de casa. Mas acontece que, ali, eu ainda não havia entendido que aquilo era um caso de atribuições deslocadas: no momento em que desci do avião e, num Uber, cruzei a cidade deserta no início da madrugada, não tive o suspiro de alívio de quem estava finalmente em casa. Foi gravíssimo aquele silêncio dentro da cidade, dentro do carro, dentro de mim. Eu entrava em território proibido.
Um mês depois, viajei para o Rio de Janeiro a trabalho e, de lá, segui rumo a Paraty para o lançamento do meu livro. Ao fim daquela semana, após todas as enormes emoções e eventos e estímulos, a vontade de casa retornou, e foi inevitável a mesma madrugada e o mesmo encontro catastrófico do vazio de ter finalmente chegado. Então, o que muda qundo o familiar deixa de ser seguro, de ser refúgio? Esse algo que muda dentro da gente tão sutilmente, tão imperceptível, que escapa ao olho interno — seu primeiro anúncio chega como um tremendo desamparo. Para onde se volta depois disso?
Te digo que foi tudo uma sucessão de fins — um percurso até o fim último que se traduziu numa passagem só de ida para Brasília, para uma casa onde nunca estive e que, ainda assim, já soa como minha porque fui capaz de encontrar, de antecipar alguns azuis.
Porque há também isso dentro dos fins e começos todos: da mesma forma sutil e escandalosa que se perde o lugar em que se vive desde sempre, se ganha o território onde nunca se pisou. São as mesmas suavidades e anunciações, sempre.
Ficamos com a máxima de que casa é onde o nosso coração tão levemente está.
VIII.
[diante do início dos fins] [os dias do início dos fins]
No último sábado à noite, Gio me falou que a mudança, no seu sentido mais literal de realocação geográfica e caminhões de frete e anúncios imobiliários, movimentava algo muito profundo dentro de nós. Ele colocou como um processo muito intenso, no qual as camadas se revelam a nós aos pouquinhos. Pensei tudo como um desmontar de tijolos, uma desconstrução silenciosa. Também me senti muito feliz por ele ter dito isso.
Nos últimos dias, ouvi inúmeros amigos e familiares brincarem sobre como a minha mente deveria estar a milhão com todas as possíveis preocupações, e a minha resposta era sempre a de que eu me sentia tranquila — eu havia dito isso ao Gio numa tentativa de romper com alguma barreira invisível do que me mantinha nesse possível/provável estado de anestesia emocional — e um tanto seletiva, na verdade, porque eu ainda encontrava facilmente os êxtases e animações, mas não conseguia mergulhar em preocupações que me fariam perder o sono (pelo contrário, eu só ganhava). Mas a quebra da barreira não veio. Continuei onde estava; respeitei as inalterações e sutilezas.
Ouvindo sobre as movimentações intensas e silenciosas — as placas tectônicas internas, que correm lentamente debaixo de nós —, vi formar a imagem de uma praia quase deserta e inteiramente pacífica, suave: os azuis calmos e as brisas marítimas que acolhem. Quem passava por mim na areia, comentava sobre a grande tempestade que viria: os turistas nos quiosques, a guarda costeira, os surfistas, as crianças — todos avisavam das imensas águas do céu que encontrariam a areia e o mar naquela praia. Mas eu não via. Tampouco duvidava. Mas é que aquele azul todo parecia imperturbável. Algo ali permanecia e se garantia — e eu comecei a suspeitar que era a paz. Me ocupei de catar as conchas trazidas à praia pela maré — uma especialidade minha.
Escrevo isso numa segunda-feira; ainda não são sete da manhã. São os meus últimos três dias trabalhando presencialmente no lugar onde trabalhei durante os últimos cinco anos, o mesmo que frequentei durante os últimos nove. Assustei com esse último número. Contei os anos outras duas vezes para ter certeza de que não errei a conta. Entrei na faculdade em 2017, o mesmo lugar onde iniciei uma graduação, troquei para outra; onde iniciei minha vida profissional e também me tornei profissional; onde conheci meus melhores amigos de uma vida inteira, e uma delas virou cunhada; o lugar onde aprendi sobre tudo aquilo que é realmente importante pra mim — e dessa caminhada e de todas as microcenas que se revelam a mim, alcancei agora os últimos três dias sendo parte desse lugar.
Me escaparam as palavras que poderiam vir depois de tudo isso.
IX.
No dia seguinte, terça-feira, a tempestade chegou. E eu deixei chegar. Talvez por isso tão logo ela tenha passado. Na carona para casa no penúltimo dia, comentei com a Néia que estava aterrorizada com a ideia de ir trabalhar no dia seguinte, com medo do que seria aquele último dia, e ela falou que eu não precisava ir. Só que eu precisava, sim. Expliquei que a sensação era a mesma de ter que ir a um velório: você não quer viver aquele dia, mas precisa do processo para ser capaz de viver o próximo. Diante disso, ela me deu a chave para suavizar a tempestade ao dizer que não ir ao velório é negar que viveu.
Então, quando a quarta-feira chegou, escolhi honrar o que vivi: naveguei os momentos com um tanto de emoção, algumas lágrimas, bilhetes em post-it azul que deixei por aí, mensagens de agradecimento (uma outra especialidade minha). Eu pude estar lá por todas as coisas das quais quis me despedir com suavidade: a rotina, as pessoas, os lugares.
Indo para o trabalho, tive a sorte de saber que vivia a minha última caminhada de um mesmo trajeto diário da última década: quis as cores todas, quis alongar os passos, olhar pra trás, medir o céu para guardar no bolso. Relembrei que aprendi a viver aqui através das estações, memorizando cores, árvores, pessoas. Me deixei passar pelos vários últimos de tudo o que amei por tantos anos e tive a sorte de toda a leveza do processo.
O álbum dos Tribalistas (2002) é parte das minhas melhores lembranças de infância: eu e minhas irmãs no quarto, ouvindo o CD o dia inteiro no som que ganhamos de presente em algum Natal, o mesmo em que ganhei minha casa de bonecas. No último mês, repeti as cenas sem querer, ouvindo tudo em looping novamente, reconhecendo as letras de alma, vendo resgatar toda imagem e história que minha mente de criança imaginava quando ouvia cada música. E como em Passe em Casa, uma das minhas favoritas, nesse junho de começos e despedidas, passaram as coisas todas:
Passam pássaros e aviões
E no chão os caminhões
Passa o tempo, as estações
Passam andorinhas e verões




X.
Eu caminhei muito levemente por esse texto. Acho que, em todos os seus capítulos, ele foi um processo em si. Alguns dias, não suportei escrevê-lo; em outros, os textos vieram como uma enxurrada de palavras que sequer precisaram de tantas edições.
De passagem só de ida comprada (e uma irônica conexão de algumas horas no coração paulistano), iniciei hoje a minha última semana morando em Campo Grande. Estou no quarto que ainda é meu, mas meus quadros já não estão mais nas paredes, estou rodeada por caixas que guardam minhas coisas, malas com algumas roupas e tenho à mão só aquilo de que preciso na rotina. Bibelôs enrolados em plástico-bolha, agenda cheia de encontros com amigos, mensagens de carinho que ainda não consegui responder. O último happy hour do trabalho com drinks e samba, o almoço na casa das tias com cama elástica, flores no cabelo, espumante, lasanha vegetariana e bolo de café.
Eu me sinto terrivelmente feliz nesse instante. E junto das minhas coisas em caixas, é isso o que levo porque, no fim, é como em Cartão Postal, possivelmente minha música favorita da Rita Lee: tudo é tão simples que cabe num cartão postal.
Então, num cartão postal de Campo Grande para Campo Grande, deixo a minha simplicidade:
Gosto muito do que deixo ficar (aqui). Gosto da extensão do que foi a caminhada, das construções, edifícios de pessoas, do legado. Ao final, tudo contou.








e [a cidade não me deixou deixá-la sem antes ver os ipês florirem cor-de-rosa]
Às minhas pessoas:
As minhas últimas semanas em Campo Grande foram cheias de amor, torcida, mémórias e risadas, com toda a imensidão daqueles que colecionei no álbum da minha vida, daqui e de lá, de vários lugares do mundo (!). Obrigada à minha família de perto e de longe-paulistana, aos meus amigos, aos amigos-dos-amigos que viraram meus amigos, aos cachorros e gatinhos, aos passarinhos, e às árvores que me esperaram.
A vida é sobre ganhar a sorte dos nosso ipês.

O meu livro A menina que salvou os peixes está à venda no site da Editora Patuá e também na Amazon. E se você já leu, deixa uma avaliação lá, por favor? 🥲💙🐟






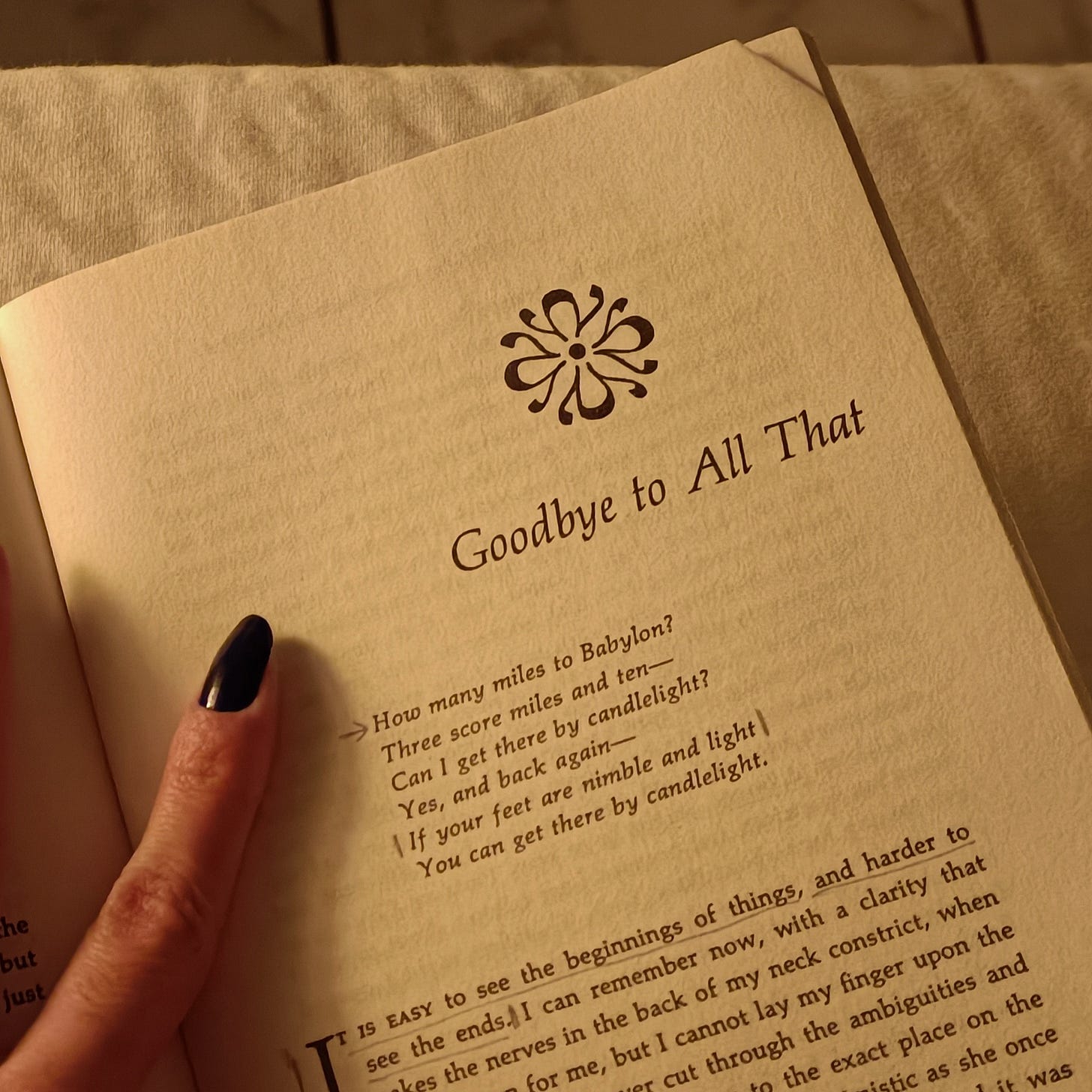

Uma história linda que descreve bem um pedaço de mim no mundo. Infinitamente te amo e mesmo em qualquer distância te sinto em mim. Voa beija-flor sempre terá um lugar pra pousar!